A morte nunca foi negada ou escondida em casa e falar sobre quem partiu nunca foi proibido.
Quando pequena, não podíamos ir à velório, enterro ou cremação, mas era vagamente compartilhado quando perguntávamos. Sabíamos que faleceu e ficávamos na casa de um parente durante os rituais. Ao reencontrá-los, encontrávamos a família triste, cabisbaixa na casa dos meus avós e assim permanecíamos até o final do dia.
Quando nos mudamos para Minas, conheci uma forma diferente de velar e reverenciar a pessoa que se foi. Conheci o anúncio do falecimento pelos autofalantes da Igreja Matriz, o velório de corpo presente na casa da pessoa e a caminhada com o corpo da casa dela até seu novo lar no cemitério – com os comércios baixando suas portas durante a passagem em sinal de respeito.
Em Pira, soube que os velórios poderiam virar a madrugada toda e continuar no dia seguinte. E foi a primeira vez que participei de velórios e enterros. Foi só lá que entendi mais o significado dos rituais, depois de vivenciá-los, e entendi que existem diferentes formas de se fazer isso.
Foi virando a madrugada para velar um ente querido que eu entendi que o riso das histórias lembradas pode ser natural, foi só depois de ver uma cerimônia do caixão sendo baixado no final da cremação que eu entendi que é uma dor a mais ali pra mim.
E tive outras experiências que me mostraram que as situações do momento e posteriores, que estão relacionadas ao luto, podem ser leves e ainda assim com muito significado.

Na foto com minhas irmãs, nós estamos usando colares com as cinzas do meu avô paterno. Esse colar foi um presente da minha avó para as netas, filha, nora e para ela mesma. A minha interpretação dele é que “não precisa estar presente para estar junto” e fica como um amuleto. As cinzas para os colares foram separadas no dia em que depositamos o restante ao redor da árvore favorita do meu avô. Lembro que nesse dia, os adultos choravam, e as crianças dançavam e se divertiam, afinal, nos foi dito que era um adubo especial para a árvore crescer forte, e que era a árvore do vovô.
A minha avó paterna resolveu deixa tudo encaminhado. A cremação estava paga e as músicas separadas para o momento final da descida do caixão.
No dia que ela finalizou o processo e deixou as informações na empresa, dançamos sobre a cama com as músicas por ela escolhidas. Dançamos, cantamos, rimos. No dia do velório, me peguei sorrindo lembrando desse momento.
Meu pai sabia que a morte poderia estar próxima. Nas suas últimas semanas, nós dois conversamos muito sobre muitas coisas, e sobre como gostaria de ser velado também. Acabamos não escolhendo música pq ele não fazia questão dessa cerimônia final – nem nós. Pra mim, seu velório foi um dia bem triste, mas tiveram momentos que compartilhamos histórias especiais e engraçadas, e rimos. Seus amigos contaram algumas de suas peripécias de juventude, e rimos mais um pouco. E foi leve, foi sincero, foi respeitoso.
Um dos funcionários do Memorial comentou que nunca tinha visto um velório tão leve e significativo.
Quando pegamos sua urna, alguns dias depois, estávamos em uma padaria. Comemos, com ele em uma cadeira ao nosso lado, compartilhamos mais histórias, e fomos fazer algo que ele tinha pedido.
Nessa manhã, fomos ao Pier de Santos e, ao som de Reginaldo Rossi, que ele amava, jogamos uma parte das cinzas no mar. O fato do meu padrinho – uma pessoa muito carinhosa e bem desajeitada – quase ter derrubado toda a urna no mar tentando abrí-la, contribuiu para a leveza do momento.
Choramos, rimos, dançamos, cantamos. Meu pai falava que a vida precisava valer a pena. Não concordo completamente com a forma com que ele fez isso, mas ele era honesto com esse valor.
Não tem jeito certo nem errado de se levar a partida. Não tem ritual obrigatório de ser seguido ou não. Tem o que a pessoa gostaria e o que a família precisa e dá conta. Afinal, por mais que o ente quisesse, o ritual principal é para aqueles que ficaram.
“A saudade é o amor que fica”
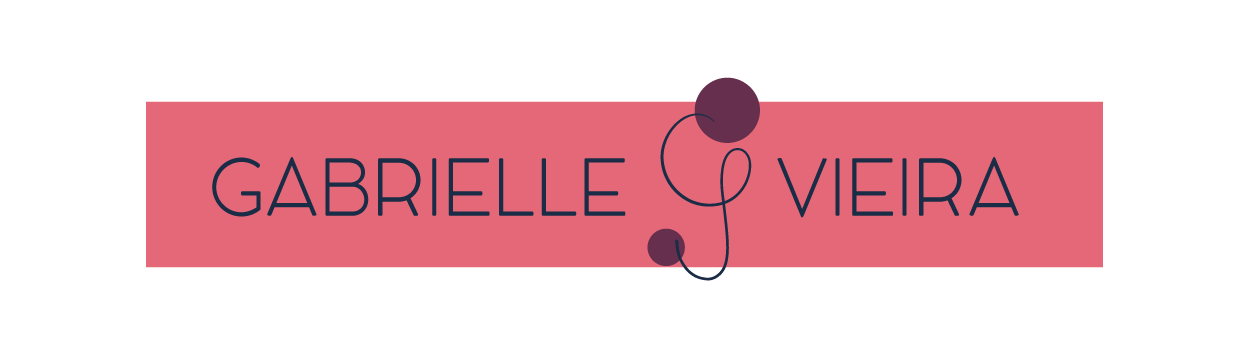
Deixe um comentário